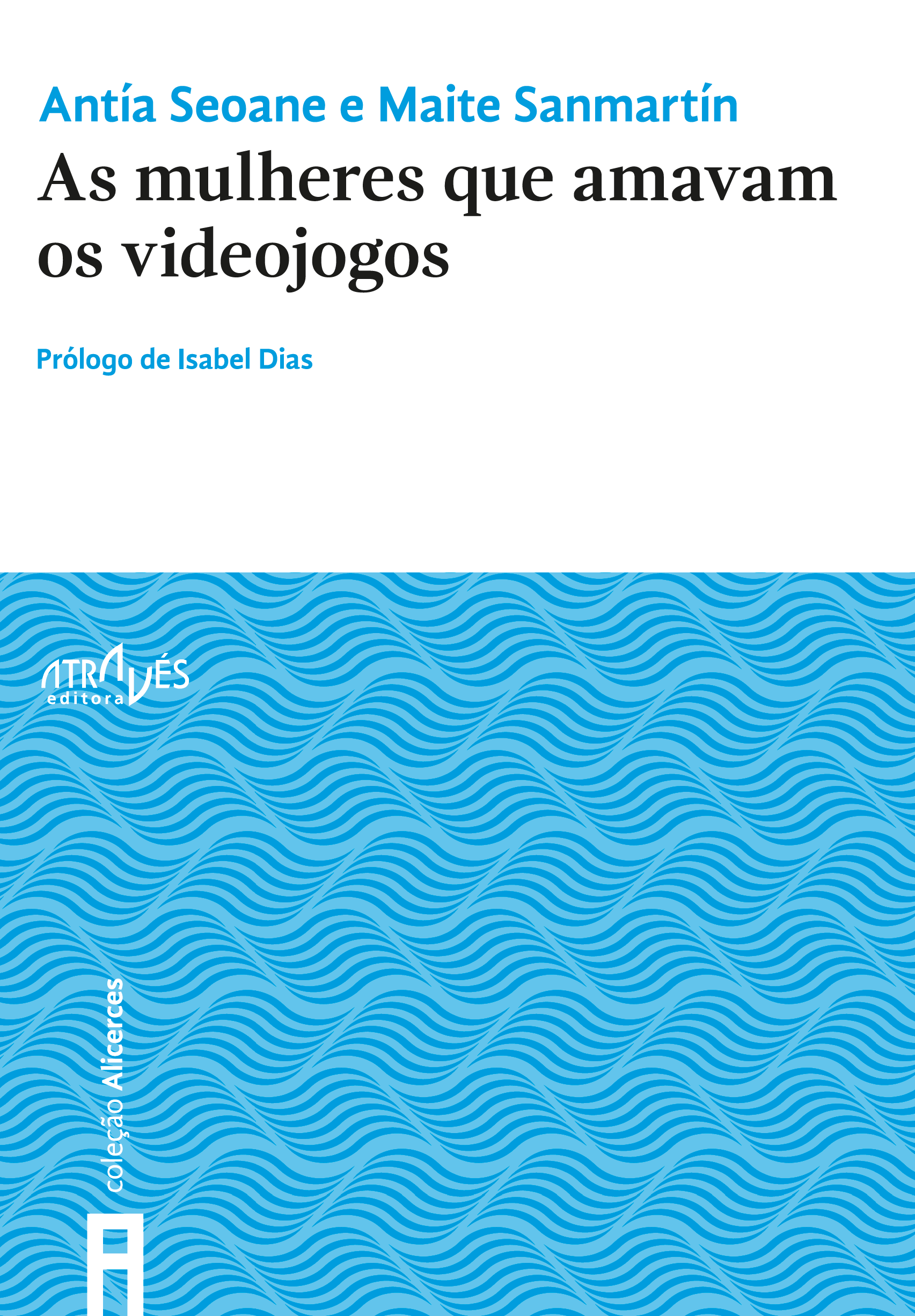'As mulheres que amavam os videojogos' (Através), de Antia Seoane e Maite Sanmartin é um ensaio que reflete sobre este jeito da lecer sob uma perspectiva feminista
Uma maneira de fazer realidade uma alternativa aos videojogos violentos poderia ser “introduzir histórias que falassem de cuidados, de cooperação, do relacionamento entre as pessoas; elementos fulcrais na cultura feminista que parecen invisíveis para os videojogos porque foram subvalorizados pelo patriarcado e o capitalismo. Estamos a pedir videojogos que considerem aspetos fundamentais para a vida; sem cuidados, sem cooperação e sem relacionamentos sólidos entre as pessoas, o mundo iria a pique”. É assim que Antia Seoane e Maite Sanmartin falam em 'As mulheres que amavam os videojogos' (Através), um ensaio que reflete sobre este jeito da lecer sob uma perspectiva feminista não só criticando o preconceito patriarcal dos videojogos que dominam o mercado, senão propondo alternativas e oferecendo conselhos para fazer melhores escolhas.
“A indústria acha que os consumidores do produto são homens, especialmente adolescentes. Por causa de estereótipos de longa data, as meninas recebem como presente bonecas e os rapazes consolas”
As autoras, politóloga -Seoane- e mestra -Sanmartin- analisam o tema a partir da perspetiva das ciências sociais e, acima de tudo, o pensamento feminista -o ciberfeminismo, por exemplo - mas também a partir da sua experiência como jogadoras. “Porque é que os videojogos são deles”, preguntam. “Muito simples, porque a indústria acha que os consumidores do produto são homens, especialmente adolescentes. Por causa de estereótipos de longa data, as meninas recebem como presente bonecas e os rapazes consolas”. Motivo pelo qual, ademais, as mulheres têm que se justificar, freqüentemente, para jogar, já que a sua presença no mundo nos videogames é considerada muitas vezes, de alguma forma, ilegítima. “Seremos videojogadoras, porque os nossos namorados jogam ou porque queremos chamar a atenção com algum tipo de intenção oculta, nunca porque gostamos de verdade”, explicam.
“Os videojogos representem as mulheres como seres indefesos, damas em apuros, seres hipersexualizados ou prémios para os hérois”
Mesmo quando uma rapariga conseguir entrar no clube “será considerada como “a menina especial”, uma tipa “fixe”. Porque “as mulheres neste clube masculino existem como decoração ou como qualquer coisa para idolatrar”. O problema, apontam depois, “está em que toda a nossa cultura indica que só há uma maneira correta de ser mulher ou homem, como se não houvesse um espectro. Os videojogos fazem parte dessa cultura e vêm a reforça-la, daí que se tenha falado muito de que representem as mulheres como seres indefesos, damas em apuros, seres hipersexualizados ou prémios para os hérois. Igualmente, apresentam uma forma de ser homem monolítica e estereotipada”, a saber, heterossexual, “de meia-idade, aspeto rude e ligeiramente descuidado, que não hesita em usar a violência para resolver qualquer conflito e cuja resposta perante qualquer situação se limita a um comentário sarcástico”, com “força, coragem, temeridade”, segundo o “clássico arquétipo viril, ligeiramente adaptado às convenções vigentes hoje”.
“Ser vulnerável e precisar de ajuda parece uma coisa má: como se as protagonistas sempre tivessem que ser mulheres fortes e independentes”
Ás vezes, no entanto, “até ousamos propor uma alternativa: que ela seja a personagem forte e independente que resgata o príncipe. Ou que se resgate a si própria -visto que parece importante sempre resgatar algo ou alguém. O assunto dá para analisarmos muitos pormenores porque, ao assumirmos essa resposta como única, indiretamente estamos a sugerir que ser vulnerável e precisar de ajuda parece uma coisa má: como se as protagonistas sempre tivessem que ser mulheres fortes e independentes”, escrevem as autoras. E a seguir preguntam: “Isto é quanto têm a dizer os feminismos sobre os videojogos? Esta questão não é um menosprezo ao trabalho de muitas feministas que lutam por normalizar a perspetiva de género neste campo porque, embora se tenha repetido o mesmo uma e outra vez, não significa que por mencionar o problema, este fique resolvido. Ainda temos muito por fazer”.
“A maior parte das vezes, forte e empoderada acaba por significar que as personagens femininas adotem o arquétipo viril”
Na opinião destas autoras, não se trata, portanto, “que as personagens femininas devam ser mulheres fortes e empoderadas: a maior parte das vezes, forte e empoderada acaba por significar que as personagens femininas adotem o arquétipo viril, que sejam TIPAS duras, que não expressem os seus sentimentos, que saibam recorrer à violência, que emitam um comentârio sarcástico de vez em quando; em definitiva, que se comportem como homens. Porém, o feminismo vai para além disso”. É dizer, “precisamos de personagens complexas, multidimensionais. Precisamos de histórias que ilustrem os múltiplos conflitos e realidades que as pessoas vivem”. Como jogadoras -adicionam- “queremos enfrentar questões difíceis: que se fale de pessoas estigmatizadas, de violência de género, do abuso sexual e muito mais. Queremos ser desafiadas por decisões que façam com que duvidemos, que nos obriguem a reformular o nosso eu e até que nos magoem a alma”.
A perspetiva teórica em que se colocam as autoras é a do pós-feminismo e do ciberfeminismo. O primeiro, compreendido como “um conjunto de posicionamentos teóricos, conceitos e autorias, que assumem uma postura crítica perante os movimentos feministas anteriores, ao mesmo tempo que reivindicam a diversidade de identidades, bem como a liberdade de as escolher, além da heterossexualidade e do binarismo sexo-género”. Por exemplo, Judith Butler, que defende que “o género é desempenho”, isto é, que “os individuos adotam un papel, que atuam”, que “as pessoas agem de maneira a consolidarem a impressão de ser homem ou ser mulher. O construto da identidade baseia-se num modelo de deconstrução que utiliza a performance como ferramenta para quebrar o binómio sexo/género”, propondo uma identidade “aberta e flexível”.
“A partir do ciberfeminismo estuda-se o relacionamento entre as minorias as tecnologias digitais, em particular, o modo em que essas minorias criam redes e conquistam áreas como o ciberespaço”
De maneira complementar -indicam- “vai-se desenvolver o ciberfeminismo, para o qual as TICs implicam a possibilidade de subverter as identidades hegemónicas e de envolver uma multiplicidade de subjetividades novas, onde as tecnologias são um meio para transformar a sociedade e os papéis de género”, desde que “as teorías ciberfeministas encontram nas TICs uma maneira de desafiar as relações de poder hierárquicas e heteropatriarcais. A partir do ciberfeminismo estuda-se o relacionamento entre as minorias as tecnologias digitais, em particular, o modo em que essas minorias criam redes e conquistam áreas como o ciberespaço através de novos mecanismos para participarem dele. Internet e as redes sociais oferecem uma oportunidade para incorporarmos o discurso feminista”.
“O cibersexismo nega o falso dualismo entre on-line e real. O ódio às mulheres nos espaços públicos está a atingir níveis altíssimos e epidémicos”
Um exemplo disto último é o trabalho de Laurie Penny, “dedicado a destruir a ideia de que a degradação das mulheres nos meios de comunicação em rede deva ser tolerada ou normalizada. O cibersexismo nega o falso dualismo entre on-line e real. O ódio às mulheres nos espaços públicos está a atingir níveis altíssimos e epidémicos”. A equipa Feminist Frequency -lembram as autoras de ‘As mulheres que amavam os videojogos’-, de Anita Sarkeesian, fez em 2012 uma campanha de vídeos que analisava símbolos e figuras que transmitiam valores patriarcais, numa perspetiva ampla e sistémica, na cultura popular, incluidos os videojogos. Isto valeu-lhe “tal nivel de assédio e ameaças que teria de abandonar a sua casa”, num dos episódios do chamado Gamergate.
Seoane e Sanmartín analisan, em outro capítulo deste mesmo livro, vários “videojogos despatriarcalizados”, jogos “indie”, alternativos aos fornecidos pela grande indústria. Como Undertale, em que “se quisermos completar o jogo sem matar, temos de fazê-lo perdoando @s inimig@s. Em vez de bater, corresponderá dialogar com os monstros, na forma de uma aventura conversacional. A dificultade está em que, realmente, não temos sinais claros do que devemos fazer, do que precisa cada monstro para ser convencido”. É mais, “em Undertale não há personagens planas. Não repetem esquemas e as personalidades evoluem constantemente para não estancar”. Outro exemplo citado pelas autoras é a saga Lisa, très histórias de dor e opressão, relacionadas com o assédio sexual à infância, que definem como “um ciclo de dor e amor, de personagens que tentam amar e terminam por se prejudicar no processo, de pessoas que se tornaram péssimas porque nunca tinham sido amadas, nunca aprenderam a amar e não sabem como fazer”.
As autoras destacam também The Cat Lady ou This war of mine, entre outros jogos, e recomendam iniciativas como FemDevs -associação para a participação das mulheres no âmbito dos videojogos-, TodasGamers -site sobre videojogos com análise com perspetiva de género-, Women in Games -associação com o propósito de apoiar as mulheres no mundo dos videojogos- e Terebi Magazine -revista on-line sobre videojogos, também com perspetiva feminina-. E propoem como dicas para a escolha de jogos: personagens diversas; que a violência não seja a motivação principal -que não tenhamos que a ejercer para jogar-; elementos e discursos que não caiam no sexismo ou outras formas de discriminação; objetivos que não sejan sempre ganhar e competir e neutralidade, ou bem incorporação de temas sociais de forma explícita.
Analisam Call of Duty, Fifa 19, God of war, League of Legends, Pokémon ou Red Dead redemption 2
‘As mulheres que amavam os videojogos’ oferece, por último, uma análise de algúns dos jogos mais populares. De Fortnite comentam que apresenta “personagens femininas e masculinas em termos de igualdade”, mas sendo o fundamental o uso da violência, o domínio e a destruição. De Mario Kart Deluxe 8 analisam os estereótipos clássicos, en relação com o clichê da dama em apuros: “a Princesa Peach, sempre sequestrada e resgatada pelo protagonista, ou a princesa Daisy. Ambas aparecem no Mario Kart como condutoras dos seus próprios veículos, vestindo fato de macaco, mas sem abandonar as suas cores habituais em rosa ou amarelo, as coroas, as alfaias e, em geral, a aperência estereotipadamente feminina”. Também analisam Call of Duty, Fifa 19, God of war, League of Legends, Pokémon ou Red Dead redemption 2.